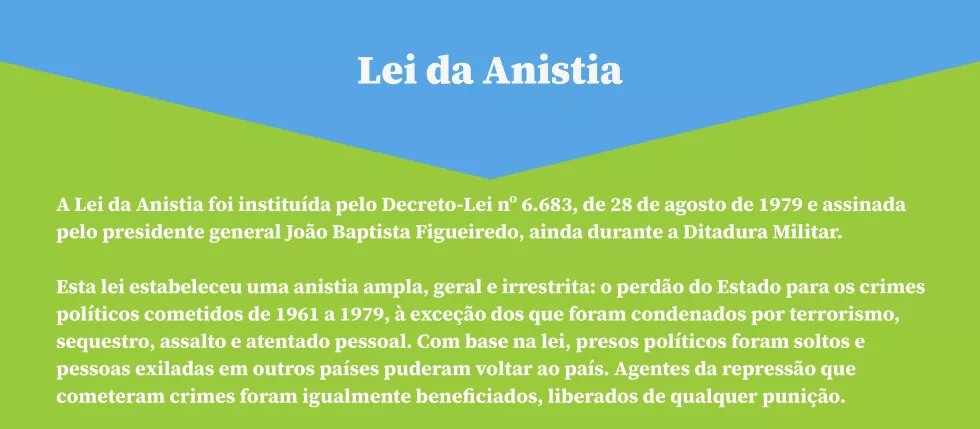

Uma revisão da cultura da memória
As mídias noticiosas divulgaram, em setembro de 2019, que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, do então governo de Jair Bolsonaro, havia declarado oficialmente não ter “dever algum” de investir recursos públicos na construção de um Memorial da Anistia.
A declaração foi feita ao Ministério Público Federal (MPF) que havia questionado a pasta da ministra Damares Alves sobre o fim das obras do museu, iniciadas em 2017, realizadas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e financiadas pelo governo federal, sob sua responsabilidade.
O texto apresentado ao MPF dizia que a construção de um Memorial da Anistia é “contraditória nos seus termos”, já que anistia “significa ‘esquecimento’” e que “um Memorial da Anistia seria algo como o Memorial do Esquecimento”.
Esta declaração se somava a outros atos do próprio ministério que atuou para criar barreiras à continuidade das ações em prol da memória e da reparação das atrocidades que o Estado brasileiro cometeu no período da ditadura militar. Entre elas esteve o gradual esvaziamento até a extinção, em 2022, último ano do governo Bolsonaro, da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), que apurava crimes da Ditadura, instituída pela Lei nº 9.140, em 1995.
Esta promoção do esquecimento vigorou no Brasil, durante os 21 anos da Ditadura e no governo de transição democrática posterior. Para além das produções acadêmicas e culturais, que nunca cessaram, a memória da violência perpetrada pelo estado de exceção do governo militar foi retomada, por agentes públicos, apenas em 1995, com a instituição da Comissão, durante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), na Presidência da República.
Importante recurso nesta trajetória de memória, verdade e justiça foi o projeto Brasil Nunca Mais (BNM), articulado nos anos 1980 por advogados e jornalistas, com o apoio do cardeal católico romano Dom Paulo Evaristo Arns e o pastor presbiteriano James Wright e financiado pelo Conselho Mundial de Igrejas. Registro de valor inquestionável para esta memória ativa.
A partir de agosto de 2001, o processo foi reforçado com a Comissão de Anistia, instalada pelo Ministério da Justiça, no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Ela passou a analisar os pedidos de indenização formulados pelas pessoas que foram impedidas de exercer atividades econômicas por motivação exclusivamente política, durante a ditadura.
Outras iniciativas continuaram a ser tomadas por organizações da sociedade civil para ampliar a noção de Justiça Reparativa, atrelada às concepções de memória e verdade, até que, um conjunto de medidas sobre o tema, no 3º Plano Nacional de Direitos Humanos, no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), levaram à aprovação, no governo seguinte, o da presidente Dilma Rousseff (PT), da Lei nº 12.528/2011, que instituiu a Comissão Nacional da Verdade (CNV).
Durante os anos de 2012 e 2014, a CNV, produziu o primeiro grande relato oficial do governo brasileiro sobre as graves violações de direitos humanos praticadas na ditadura militar. Foram utilizados os documentos das comissões que funcionaram oficialmente até então, as pesquisas acadêmicas, o importantíssimo projeto BNV, laudos periciais e muitas audiências com depoimentos de vítimas, de perpetradores e outras pessoas. O relatório de cerca de duas mil páginas, apontou 377 responsáveis por crimes e registrou 434 mortes e desaparecimentos de vítimas do regime.
A CNV apresentou no texto 29 recomendações ao Estado, para medidas institucionais, reformas constitucionais e legais e de seguimento das ações e recomendações da comissão com vistas à reparação e à prevenção para que o que foi vivido nunca mais aconteça. Além da CNV, comissões da verdade estaduais, municipais e institucionais, foram instaladas em todo o país, ampliando a cobertura dos registros.
Do fim da ditadura, em 1985, ao relatório da CNV, em 2014, 29 anos se passaram e toda uma geração foi formada sem o devido acesso a esta memória. Além disso, as negociações por “pacificação do país”, que levaram ao fim da ditadura, desde a Lei da Anistia, em 1979, às eleições indiretas (pelo Congresso Nacional), do primeiro presidente civil, em 1985, trouxeram de volta a democracia a ser reconstruída. Entretanto, impuseram a impunidade dos agentes responsáveis pelas graves violações de direitos, como permitiram que, até o presente, quartéis, escolas de formação das Forças Armadas e clubes militares, ainda celebrem, anualmente, o 31 de março, atribuindo o título de “Dia da Revolução de 1964”.
Nesse sentido, a Lei da Anistia, de 1979, se tornou uma promoção oficial do esquecimento, um acordo social em torno do apagamento de conflitos vividos, em prol de uma convergência, de uma harmonia social. O esquecimento tornou-se para as gerações pós-ditadura no Brasil, uma barreira contra projetos de futuro, a imposição do silêncio para fazer calar o relato, esvaziar a polêmica, em nome da "paz social" – o esquecimento de criar um futuro que não reproduza o passado de infortúnios.
A retomada dos discursos pró-ditadura em 2013
A amnésia social promovida ganhou seu ápice a partir de 2013, com as articulações antigoverno de Dilma Rousseff (PT), que foram oportunidade de gestação da extrema direita no Brasil. Desde 2013, passaram a circular intensamente em mídias digitais largos volumes de vídeos, cards, áudios e fotos de pessoas e grupos exigindo “intervenção militar no governo do Brasil”. Junto com esta avalanche de conteúdos, uma intensificação de produções promotoras do negacionismo histórico da ditadura militar. Os 21 anos de estado de exceção no Brasil foram reavaliados, reconsiderados e justificados, tanto por militares, por intelectuais, por plataformas de mídias (como a Brasil Paralelo e a Gazeta do Povo, por exemplo), como por políticos alinhados à direita.
O país passou a assistir situações como pedidos de intervenção militar em manifestações de rua e a declaração de voto do então deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ), pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, via transmissão ao vivo em rede nacional, com homenagem ao coronel Brilhante Ulstra, um dos mais sanguinários torturadores da ditadura, conforme o relatório da CNV.
Este momento ficou marcado por deixar defensores da democracia e dos direitos humanos estarrecidos com a permissividade da exaltação da ditadura, pelas autoridades do Poder Legislativo brasileiro. Durante a votação do impeachment da presidente Dilma, em 17 de abril de 2016, o deputado Bolsonaro proferiu a seguinte declaração de voto, em meio a vaias e aplausos: "Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo exército de Caxias, pelas Forças Armadas, pelo Brasil acima de tudo e por Deus acima de tudo, o meu voto é sim".
Bolsonaro estabelecia um simbolismo cruel: na casa legislativa do país, que articulou para destituir a presidente da República, em processo controverso, que anos depois se revelaria injusto, declarava seu louvor ao militar que havia torturado ela mesma, quando militante de oposição à ditadura. Entre 1970 e 1974, Carlos Alberto Brilhante Ustra foi o chefe do DOI-Codi do Exército de São Paulo, órgão de repressão política do governo militar. Sob o comando dele, segundo o Relatório Final da CNV, cerca de 50 pessoas foram assassinadas ou desapareceram e outras 500 foram torturadas. Ulstra faleceu em 2015, aos 83 anos; sua viúva, Maria Joseíta, foi recebida, oficialmente, pelo menos duas vezes, por Jair Bolsonaro, quando presidente da República, em uma delas com a declaração pública de que o ex-coronel do Doi-Codi era “um herói nacional”.
Pesquisas mostraram que o clima estabelecido a partir de 2013, culminando com o impeachment de Dilma Rousseff, resultavam de um sentimento antipolítica, de pessoas mais velhas, que viveram o tempo da ditadura, e foram movidas por raiva, frustração e ignorância quanto ao passado e aos novos tempos. Também uma parcela de pessoas mais jovens, a quem o passado da ditadura não foi devidamente apresentado, com dificuldade de enxergar o futuro democrático, movidas pelo chamado de grupos de extremistas a um ativismo imediatista - “algo precisa ser feito agora” -, muito ancorado na destruição do que existe, sem qualquer projeção de construção refletida.
A exploração da noção populista de “filhos abandonados” (o povo) à espera do “pai autoritário” (as Forças Armadas) que colocaria ordem na desordem, foi bastante exposta e estimulada com muita mentira e engano (as chamadas fake news em circulação) contra o governo então em curso, o de Dilma Rousseff. Quem imaginaria que o antigo fantasma do comunismo que embalou o golpe de 1964 retornaria com tanta força? E a defesa da família tradicional e da liberdade, motes da articulação que impôs a ditadura militar, serem novamente usados como pânico moral?
De 2013 a 2018, foram cinco anos de uso do esquecimento da ditadura para a disseminação da antipolítica, do antipetismo/antiesquerdismo e do autoritarismo que só poderiam gerar o questionável processo de impeachment de Dilma Rousseff. Em seguida, foi gestado também o resultado das eleições de 2018, que levou à Presidência da República o ex-capitão do Exército Jair Bolsonaro, tendo um general como vice-presidente, representantes mais expressivos da extrema direita, então consolidada.
E agora?
A derrota eleitoral desse governo em 2022 não significa muito no tocante a este tema. O que ocorreu naqueles quatro anos de governo e na tentativa de golpe para reinstalar Bolsonaro no poder, que culminaram nos ataques a Brasília, de 8 de janeiro de 2023, são prova viva de que a história da ditadura militar está longe de ser superada, não foi devidamente contada e justiça e reparação dos males não foram feitas. Ainda mais quando a violência sustentada pelo Estado continua sendo praticada e são muitos os Amarildos, as Claudias, as Marielles[1], além de agricultores, indígenas e moradores de periferias que sofrem com as práticas de exceção que perduram, culminando na impunidade generalizada.
O presente é preocupante dados o avanço do extremismo no cenário político e os entraves institucionais e políticos para se retomar os processos de Justiça Reparativa e de cultivo da memória. Em 2023, o Instituto Vladmir Herzog apresentou relatório que mostra que apenas duas das 29 recomendações da CNV foram realizadas e seis parcialmente realizadas; da maioria não realizada, sete foram retrocedidas.
A decisão do governo Lula de não tratar oficialmente os 60 anos do golpe militar e de não retomar a construção do Memorial de Direitos Humanos, interrompida no governo anterior, é fonte de frustração para quem defende a democracia e, especialmente, para as famílias de mortos, desaparecidos e perseguidos que ainda esperam por justiça. Mais uma vez, o esquecimento é acionado para apaziguar, porém as feridas, tão sofridas, permanecerão abertas.
No entanto, é preciso resistir e valorizar os 60 anos do golpe militar, em 2024. É uma oportunidade ímpar – “quem sabe faz a hora”, diz a canção popular de resistência - para que setores democráticos, lideranças e grupos sociais, comprometidos com a defesa dos direitos humanos e da cidadania, pensem e construam formas de ação contra os autoritarismos ainda presentes e reforcem a democracia no Brasil pela memória, pela verdade e pela justiça.
[1] As três pessoas citadas são casos de grande repercussão na sociedade: 1) Amarildo Dias de Souza era um ajudante de pedreiro, desaparecido, em 2013, após ter sido detido por policiais na favela da Rocinha, Rio de Janeiro. Após grande comoção popular, os policiais acusados foram condenados. 2) Em 2014, a auxiliar de serviços gerais Claudia da Silva Ferreira foi vítima de bala perdida, durante uma operação policial. O corpo de Claudia foi arrastado pela viatura que alegou prestar socorro à vítima durante cerca de 350 mts. 3) Marielle Franco, vereadora da cidade do Rio de Janeiro, foi assassinada com cinco tiros por pessoas ligadas às milícias do Rio de Janeiro.
